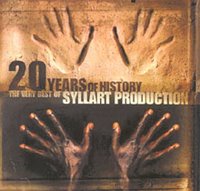Aqui se recupera uma crítica conjunta a alguns discos de trad/folk portugueses editados em 2004: Frei Fado d'El Rei, José Barros e Navegante, Boémia, Tocándar, Belaurora e Segue-me à Capela (na foto e também com entrevista mais em baixo, neste post).
TRADICIONAL EXTRA
Enquanto se aguardam ansiosamente os álbuns de estreia d'Uxu Kalhus e Mandrágora e os novos discos de Danças Ocultas, Dazkarieh, Terrakota e Realejo, aqui vai o levantamento de existências mais recentes na música portuguesa de inspiração tradicional.
 E começamos por aquele que está, de facto, mais próximo das raízes: o álbum homónimo - e primeiro - das Segue-me à Capela, um disco lindíssimo onde se recuperam - só com o recurso a um coro de sete vozes femininas, algumas percussões e alguns apontamentos «laterais» (lenga-lengas, diálogos...) - temas tradicionais de várias zonas do país recolhidos por Michel Giacometti, José Alberto Sardinha ou o GEFAC e algum do reportório de José Afonso. Destaque absoluto para as versões de temas da Beira Baixa («Macelada/S.João», «Senhora do Almortão»...) e para aqueles em que a voz solo de Cristina Martins brilha a grande altura («Tu Gitana», de José Afonso, ou a arrepiante «Por Riba se Ceifa o Pão»). (8/10)
E começamos por aquele que está, de facto, mais próximo das raízes: o álbum homónimo - e primeiro - das Segue-me à Capela, um disco lindíssimo onde se recuperam - só com o recurso a um coro de sete vozes femininas, algumas percussões e alguns apontamentos «laterais» (lenga-lengas, diálogos...) - temas tradicionais de várias zonas do país recolhidos por Michel Giacometti, José Alberto Sardinha ou o GEFAC e algum do reportório de José Afonso. Destaque absoluto para as versões de temas da Beira Baixa («Macelada/S.João», «Senhora do Almortão»...) e para aqueles em que a voz solo de Cristina Martins brilha a grande altura («Tu Gitana», de José Afonso, ou a arrepiante «Por Riba se Ceifa o Pão»). (8/10) Gravado ao vivo no Mosteiro de Leça do Bailio, no ano passado, o novo álbum dos Frei Fado d'El Rei, «Em Concerto», transporta-nos para um ambiente mágico onde se cruzam sintetizadores, guitarras acústicas, harpa, percussões com instrumentos feitos de barro e peles e madeiras, e belas vozes femininas (Carla Lopes e, a espaços, a guitarrista Cristina Bacelar), o passado (canções medievais galaico-portuguesas, romances...), o presente (Madredeus, o flamenco, o fado...) e o futuro (pense-se numa música tradicional imaginária do século XXIII português). (7/10)
Gravado ao vivo no Mosteiro de Leça do Bailio, no ano passado, o novo álbum dos Frei Fado d'El Rei, «Em Concerto», transporta-nos para um ambiente mágico onde se cruzam sintetizadores, guitarras acústicas, harpa, percussões com instrumentos feitos de barro e peles e madeiras, e belas vozes femininas (Carla Lopes e, a espaços, a guitarrista Cristina Bacelar), o passado (canções medievais galaico-portuguesas, romances...), o presente (Madredeus, o flamenco, o fado...) e o futuro (pense-se numa música tradicional imaginária do século XXIII português). (7/10) Também gravado ao vivo, mas sem a capacidade encantatória do álbum dos Frei Fado d'El Rei, é o novo álbum (duplo) de José Barros e Navegante, «...Vivos. E ao Vivo». Com alguns convidados ilustres - Rui Vaz e José Manuel David (dos Gaiteiros de Lisboa), José Martins, Pedro Jóia, a cantora galega Uxia - e até uma boa escolha de reportório, o álbum sofre, no entanto, dos mesmos males que outros discos dos Navegante: a voz de José Barros é pouco flexível e os arranjos são, muitas vezes, bastante devedores de Fausto e dos Trovante-dos-momentos-apenas-assim-assim. Mesmo assim(-assim), bons momentos no aflamencado «S.João», no hipnótico «Senhora dos Remédios» ou no cante alentejano de «Laranjinha». (5/10)
Também gravado ao vivo, mas sem a capacidade encantatória do álbum dos Frei Fado d'El Rei, é o novo álbum (duplo) de José Barros e Navegante, «...Vivos. E ao Vivo». Com alguns convidados ilustres - Rui Vaz e José Manuel David (dos Gaiteiros de Lisboa), José Martins, Pedro Jóia, a cantora galega Uxia - e até uma boa escolha de reportório, o álbum sofre, no entanto, dos mesmos males que outros discos dos Navegante: a voz de José Barros é pouco flexível e os arranjos são, muitas vezes, bastante devedores de Fausto e dos Trovante-dos-momentos-apenas-assim-assim. Mesmo assim(-assim), bons momentos no aflamencado «S.João», no hipnótico «Senhora dos Remédios» ou no cante alentejano de «Laranjinha». (5/10) E por falar em Fausto e em Trovante, «Semente», o álbum de estreia dos Boémia, é completamente devedor destes dois nomes. A voz de Rogério Oliveira (também autor de muitas das, boas, letras) oscila entre os timbres de Fausto e de Luís Represas (às vezes conseguindo o milagre de fazer lembrar os dois ao mesmo tempo) e as influências são tão assumidas - com humildade - que tanto Fausto quanto Represas são convidados no disco, juntamente com o cantautor espanhol Luís Pastor. E, apesar da colagem aos modelos, há alguns momentos bastante interessantes no álbum como o primeiro tema, «O Avançado e o Guarda-Redes», com um belo arranjo de cordas, a suavezinha «Já Desce a Noite», «Por Los Pasos de Mis Días» (de e com Pastor), o início mirandês de «Presságio de Um Conquistador» ou a versão de «Que Amor Não Me Engana», de José Afonso. Um álbum honesto. (6/10)
E por falar em Fausto e em Trovante, «Semente», o álbum de estreia dos Boémia, é completamente devedor destes dois nomes. A voz de Rogério Oliveira (também autor de muitas das, boas, letras) oscila entre os timbres de Fausto e de Luís Represas (às vezes conseguindo o milagre de fazer lembrar os dois ao mesmo tempo) e as influências são tão assumidas - com humildade - que tanto Fausto quanto Represas são convidados no disco, juntamente com o cantautor espanhol Luís Pastor. E, apesar da colagem aos modelos, há alguns momentos bastante interessantes no álbum como o primeiro tema, «O Avançado e o Guarda-Redes», com um belo arranjo de cordas, a suavezinha «Já Desce a Noite», «Por Los Pasos de Mis Días» (de e com Pastor), o início mirandês de «Presságio de Um Conquistador» ou a versão de «Que Amor Não Me Engana», de José Afonso. Um álbum honesto. (6/10) Na esteira dos pioneiros O Ó Que Som Tem? e dos seus inúmeros «filhos» dos Tocá Rufar, os Tocándar editaram recentemenente o seu álbum de estreia, homónimo, onde as percussões são rainhas - afinal, são dezenas de percussionistas em acção simultânea - mas onde também há lugar para as gaitas-de-foles (cortesia de gaiteiros das Astúrias e da Banda de Gaitas Xarabal, da Galiza, e dos lisboetas Gaitafolia) e de alguns elementos exteriores como Paulo Abelho (Sétima Legião) e João Eleutério, que são responsáveis pelo som do disco e também transformam o último tema, «Às Onze no Farol», numa interessante mistura onde se cruzam os bombos e as caixas com a electrónica. Os ritmos são bastante variados - desde chulas a rufares processionais - e a inclusão das gaitas em vários temas e de flauta e sintetizador no belíssimo «Deus dos Trovões», fazem com que o disco seja uma constante surpresa. (7/10)
Na esteira dos pioneiros O Ó Que Som Tem? e dos seus inúmeros «filhos» dos Tocá Rufar, os Tocándar editaram recentemenente o seu álbum de estreia, homónimo, onde as percussões são rainhas - afinal, são dezenas de percussionistas em acção simultânea - mas onde também há lugar para as gaitas-de-foles (cortesia de gaiteiros das Astúrias e da Banda de Gaitas Xarabal, da Galiza, e dos lisboetas Gaitafolia) e de alguns elementos exteriores como Paulo Abelho (Sétima Legião) e João Eleutério, que são responsáveis pelo som do disco e também transformam o último tema, «Às Onze no Farol», numa interessante mistura onde se cruzam os bombos e as caixas com a electrónica. Os ritmos são bastante variados - desde chulas a rufares processionais - e a inclusão das gaitas em vários temas e de flauta e sintetizador no belíssimo «Deus dos Trovões», fazem com que o disco seja uma constante surpresa. (7/10) Finalmente, chega-nos, do meio do Atlântico, o álbum «Achados do Tempo», dos Belaurora, um disco simples e sem grandes pretensões que dá a conhecer muitos temas tradicionais de várias ilhas dos Açores. Com uma formação - e uma sonoridade - semelhante à dos ranchos folclóricos açorianos, os Belaurora mostram aqui sapateias, o lundum (género que, segundo alguns teóricos, poderá estar na origem do fado e nesta versão está muito próximo do fado de Coimbra), o divertido «Matias Leal» ou uma homenagem a Jaime «Chumeca». (5/10)
Finalmente, chega-nos, do meio do Atlântico, o álbum «Achados do Tempo», dos Belaurora, um disco simples e sem grandes pretensões que dá a conhecer muitos temas tradicionais de várias ilhas dos Açores. Com uma formação - e uma sonoridade - semelhante à dos ranchos folclóricos açorianos, os Belaurora mostram aqui sapateias, o lundum (género que, segundo alguns teóricos, poderá estar na origem do fado e nesta versão está muito próximo do fado de Coimbra), o divertido «Matias Leal» ou uma homenagem a Jaime «Chumeca». (5/10)SEGUE-ME À CAPELA
ENTREVISTA
O álbum de estreia, homónimo, das Segue-me à Capela é uma das maiores revelações dos últimos anos da música de raiz tradicional portuguesa. Vozes e rituais no tempo explicados por Cristina Martins, fundadora do grupo.
As Segue-me à Capela nasceram no dia 1 de Abril de 1999, na sequência de «um convite para cantar no Bar Botirão, em Aveiro, durante o fim-de-semana da Páscoa de 1999. Propus ao dono desse estabelecimento realizar um espectáculo de música tradicional portuguesa cantado a capella e convidei 5 cantoras com as quais tinha uma forte ligação», algumas delas antigas companheiras de Cristina no GEFAC, de Coimbra, outras ainda ligadas a este grupo.
Eram seis, passaram a ser sete, «porque sentimos a necessidade de ter mais uma cantora para interpretar temas a quatro vozes, distribuindo-se assim melhor os naipes. E o sete é um número mágico». São elas, agora - e para além de Cristina Martins - Mila Bom, Margarida Pinheiro, Graça Rigueiro, Catarina Moura, Maria João Pinheiro e Cristina Rosa. Sete cantoras, muitas delas também percussionistas, porque «muitos cantares tradicionais interpretados por mulheres são acompanhados por adufes» e, ao vivo como em disco, ainda um percussionista acompanhante, de modo a «enriquecer os cantares com o apoio da percussão, o que nos permitiu também fazer arranjos mais diversificados dos temas. Gostamos de ritmos e da criação de ambientes que a introdução dos instrumentos de percussão permite». Com as Segue-me à Capela já trabalharam, ou trabalham ainda, os percussionistas Quiné, André de Sousa Machado, Fernando Molina, João Luís Lobo e Jorge Queijo.
O reportório do grupo bebe nas fontes tradicionais reveladas por Michel Giacometti, José Alberto Sardinha e/ou temas por elas já interpretados no GEFAC. E, diz Cristina, ao vivo «cantamos muitos temas para além dos que gravámos no disco. Felizmente, Portugal tem um espólio riquíssimo e estamos sempre a descobrir cantares não muito divulgados».
Pontos altos na carreira do grupo foram a actuação no XI Festival Intercéltico do Porto, o Festival de Segóvia, Espanha, «tendo sido essa participação determinante para muitos outros concertos que se seguiram em Festivais no país vizinho» e o XII Cantigas do Maio, «onde recebemos o convite de Carlos Nuñez para cantar durante o seu espectáculo».
Curiosamente, é em Espanha que surge pela primeira vez a possibilidade de gravar um álbum: «Em Espanha, quando terminávamos os concertos, o público procurava adquirir um disco nosso que não existia e recebemos um convite para gravar em Espanha. Mas a editora procurou uma distribuidora em Portugal e as negociações estavam a demorar muito. Ao fim de um ano de impasse decidimo-nos pela gravação do disco como edição de autor». E o disco aí está, gravado e distribuído pelo grupo, mas «com críticas óptimas... e estamos muito satisfeitas com a reacção do público em geral. Temos o disco à venda em todas as lojas FNAC e em algumas lojas de discos que apostam na comercialização da música tradicional portuguesa» como «a Associação José Afonso, o Mundo da Canção, etc».
Recentemente, na noite de 24 de Abril, as Segue-me à Capela participaram num concerto especial no Terreiro do Paço que as reuniu com as Cramol, as Tucanas e os Gaiteiros de Lisboa. Diz Cristina, a propósito: «Adorámos a experiência de cantar num espectáculo em conjunto com todos esses grupos, que admiramos, e gostávamos de repetir a experiência».