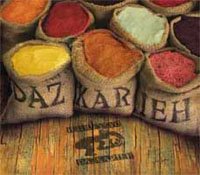Mais uma descida à memória recente da música folk - e híbridos e escapadelas e paralelos - feita em Portugal. Desta vez, com álbuns saídos em 2002 e criticados nesse ano, em conjunto, no BLITZ: Dazkarieh, Roldana Folk, Terrakota (na foto), Macacos das Ruas de Évora e Manuel d'Oliveira. E, como adenda, uma entrevista com os Terrakota, também de 2002, a propósito do seu álbum de estreia.
TRADICIONAL EXTRA
A história de uma possível música de fusão - e usemos o termo sem o sentido, redutor, de jazz de fusão dos anos 70 - em Portugal, já é longa, rica e excitante o suficiente para que dela se dê aqui - e a propósito de cinco novos discos editados nos últimos meses - apenas uma breve pincelada. E, passando por cima de mistérios mais ou menos insolúveis como «de onde vem o fado?», «o cante alentejano deve mais à música árabe ou ao canto gregoriano?» ou «a música transmontana é celta ou nem por isso?», vêm-nos à memória, como possível quadro geral da «fusão», nomes como Amália Rodrigues, José Afonso, Sérgio Godinho, Banda do Casaco, Heróis do Mar, Sétima Legião, Ocaso Épico, Trovante, entre outros artistas e grupos que nunca se limitaram a um estilo (e tivessem ou não como base a música portuguesa de «raiz», urbana ou rural... e com todas as dúvidas ou confusões ou intersecções que estas palavras implicam). Mais recentemente, os Gaiteiros de Lisboa - os mais fantásticos estilhaçadores de barreiras da actual música portuguesa -, Amélia Muge, Né Ladeiras (a solo), Vai de Roda ou Realejo, começaram também a inscrever o seu nome no rol dos aventureiros.
E, já em 2002, há cinco discos de estreia que vão - corajosamente - pelo mesmo caminho. Quer venham do emergente movimento folk do Porto (os Roldana Folk), do cadinho de mistura de culturas de Lisboa (os Terrakota e os Dazkarieh), de uma escola de jazz em Évora (Os Macacos das Ruas de Évora) ou do Minho (o fado/flamenco/e tudo o mais que se verá de Manuel d'Oliveira), em todos eles se nota uma vontade imensa de saltar fronteiras - estilísticas, geográficas... - e, quase sempre, quando as saltam, não deixam que o corpo toque na fasquia e sejam, por isso, eliminados. Saltam mesmo, com distinção, paixão, estilo, amor, e uma vontade, óbvia, de saltar ainda mais alto (ou longe), um dia. Fala-se, aqui, portanto, de mistura, fusão, sincretismo ou miscigenação.
ROLDANA FOLK
«VOAR NO FOLE»
Açor

Do Porto - e tendo como base músicos que passaram, ou ainda passam, pelos Frei Fado D'el Rei e Ceia dos Monges -, os Roldana Folk avançam para uma área (estranhamente ainda pouco visível em termos de edições discográficas nacionais) próxima da chamada música celta e de algumas sonoridades comuns ao norte de Portugal, Galiza, Bretanha, Irlanda... Mas «Voar no Fole», o álbum, não se limita a ser um repositório de ensinamentos colhidos nesse universo. Com o acordeão de Helena Soares (que faz lembrar, por vezes, a liberdade dos foles de Kepa Junkera) e a voz, suave, de Isabel Martinho (também dos Chamaste-m'ó?) como as faces mais em evidência da sua música, os Roldana Folk passeiam, com estilo, pelo «celtismo», sim, mas também vão a nomes da música portuguesa como os Trovante e Adriano Correia de Oliveira («Barca do Mar»), à Penguin Cafe Orchestra («À Luz do Sol»), a África e à América Latina, aos blues e ao reggae («Baila a Dor»), a José Afonso, Banda do Casaco e a algum folk-punk à la Oysterband («Sem Convite»). E, aqui e ali, há cheirinhos de jazz, de África, de rumbas, merengues, cumbias e bachatas. Sem medos e com alegria. Há até um aflorar, tímido, da música de dança em «Barca do Mar (versão remix)». E a folk - mesmo quando realmente entendida como uma ida ao folclore (de Trás-os-Montes, da Irlanda...) - é apresentada com bom-gosto e saber. (7/10)
TERRAKOTA
«TERRAKOTA»
Zona Música

Trezentos quilómetros a sul, os Terrakota são produto daquele enorme caldeirão de culturas que, cada vez mais, é a cidade de Lisboa. Com músicos de origem portuguesa, angolana, moçambicana e italiana, os Terrakota deram que falar nos inúmeros concertos e festivais em que participaram (arrastando consigo um assinalável grupo de fãs) antes de se atirarem à gravação de «Terrakota», aquele que é, até ao momento, o melhor álbum de música portuguesa (com todas as dúvidas que, aqui, se podem colocar à palavra «portuguesa») do ano. Usando, por vezes quase «abusando», da fusão - ou com «tudo na mesma panela» (como os Terrakota explicam, em jeito de manifesto, logo no primeiro tema do álbum, «Curruputu») -, os Terrakota socorrem-se de sons vindos um pouco de todo o mundo, com particular incidência na música africana (desde a música mandinga do Senegal e arredores até à música gnawa marroquina) e num dos seus afluentes maiores, o reggae jamaicano. Em «Inch Allah» há música árabe que desce até ao Mali e evolui para um reggae cantado em francês e italiano. Em «Sonhador» mistura-se África com Cuba, em «Bouge de Lá» há mais música árabe, uma parte da vocalização que parece, estranhamente, um fado tal como soaria na voz de Anabela Duarte e funk rasgado, em «Mali» há uma inspiração óbvia que é Ali Farka Touré (numa descida à eventual nascente dos blues), e em «Bolomakoté» há música mandinga em luta permanente com a escola jamaicana toda - ska, dub, reggae, ragga -, tudo numa celebração absoluta de liberdade estilística. Aqui e ali, a América Latina, o rock, os Balcãs, juntam-se à festa. E à riqueza tímbrica do conjunto - os instrumentos étnicos (djembé, steel drum, balafon, kissange ou sabar) e os instrumentos típicos do rock - somam-se letras (em várias línguas) de intervenção: contra a «xenofobia, nacionalismo, racismo», por uma Terra-Mãe mais justa, mais igual, mais limpa, mais bela, mais aquilo que queremos que uma mãe seja. (9/10)
DAZKARIEH
«DAZKARIEH»
Bigorna
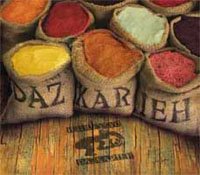
Ainda em Lisboa, e num caminho paralelo ao dos Terrakota (passa-palavra, concertos cheios de admiradores...), os Dazkarieh assinam um disco, «Dazkarieh», vivo, solto, livre, em que as músicas vêm de muitas músicas e há um espaço deixado para o silêncio, para ambientes (sons de água, o crepitar de uma fogueira...), para experimentações e misturas. Em «Dazkarieh», a música nunca está muito tempo no mesmo lugar, há dinâmica e variações, há viagens constantes. E há uma vontade evidente de transmitir estados próximos da magia e do encantamento a quem ouve a sua música. E o que é a sua música? É, em «Abour Safar», música árabe com algo aparentado a fado (uma eventual boa banda-sonora para um filme sobre a batalha de Alcácer-Kibir). É, em «Kriamideah», ora ambiental e suave - a lembrar Dead Can Dance e Banda do Casaco da primeira metade dos anos 80 - ora feito de percussões frenéticas em competição com uma tin whistle pastoril. É, em «Elgtue», uma gaita-de-foles encantatória, vagamente transmontana, com uma voz (a de Marie Beatriz) a voar lá dentro. É, em «Troligh Ol'jighil», música medieval, folk das ilhas britânicas tal como poderia ter sido tocada, repete-se o nome, pela Banda do Casaco, uma batucada africana e uma dança irlandesa estranhamente arraçada de flamenco. É, em «Miafarê Boi», uma viagem cinemática pelo Mar Negro (Grécia, Turquia, Balcãs). «Dazkarieh» é beleza em estado quase puro. (8/10)
MACACOS DAS RUAS DE ÉVORA
«MACACOS DAS RUAS DE ÉVORA»
Associ'arte

E agora, uma banda de metais portuguesa!... Outra coisa rara. É que, apesar da tradição dos «cavalinhos», das bandas de bombeiros (e outras) e das charangas de aldeia, há pouquíssima música gravada de bandas de metais portuguesas e, se pensarmos bem, temos quase a ideia de que ela não existe. Mas existe (lembro-me agora, já com saudade, da fabulosa e divertidíssima Bandinha da Alegria, que actuou nas últimas Cantigas do Maio). E Os Macacos das Ruas de Évora (no disco sem o artigo «Os») são um belíssimo exemplo do que pode ser uma «brass band» à portuguesa (apesar de o grupo ter mais estrangeiros que portugueses). Os Macacos fazem animação de rua e, no disco, esse lado festivo está bem vincado. Neles, o jazz está, obviamente, presente, mas a improvisação não apaga a base celebratória e as linhas melódicas, imediatamente reconhecíveis, das canções que eles interpretam. Canções como «Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades», de José Mário Branco, aqui transformada numa festa semi-klezmer, semi-ska, semi-jazzy, o tradicional alentejano «Passarinho» (numa versão divertidíssima, com assobios a imitar passarinhos, ou serão passarinhos a sério?), «Dona» (dos Ena Pá 2000!), duas de José Afonso - «Os Vampiros» em be-bop e «Grândola, Vila Morena» numa versão cool -, mas também «Janko Partner» (sacado ao carnaval de Nova Orleães, um dos berços do jazz e das «brass bands») ou «Fiju Fiju Kolo» (uma homenagem, natural digamos, às bandas de metais dos Balcãs), entre muitos outros. Os arranjos são alegres e os instrumentos brilham à vez, geralmente sobre uma base rítmica dada pelas percussões e pela tuba. «Macacos das Ruas...» tem dezanove temas (!), mas mais espaço houvesse no CD e mais temas estariam lá, por certo, numa viagem interminável. (7/10)
MANUEL D'OLIVEIRA
«IBÉRIA»
Ultimatum

Finalmente, uma surpresa: «Ibéria», de Manuel d'Oliveira, guitarrista que se atreveu a fazer a ponte entre o fado, a música tradicional portuguesa e o flamenco, num álbum instrumental que tem como vedetas a guitarra acústica e a viola braguesa, tocadas por d'Oliveira com virtuosismo - mas não em demasia, isto é, sem aquele «demais» que é «de menos» e que impede os virtuosos de captar a «alma» nas cordas das guitarras, sentindo-lhes apenas o «corpo». Em «Ibéria», d'Oliveira mistura a saudade do fado e o sangue na guelra do flamenco, com a ajuda de apontamentos, dispersos, de bossa-nova, música «celta», música tradicional portuguesa (obviamente com vantagem para o Minho, a terra da braguesa), a pop, o jazz (a sombra de um Pat Metheny apaixonado pelo flamenco paira sobre o tema «Viagens») e do tratamento dado por Júlio Pereira aos cordofones tradicionais portugueses (o cavaquinho ou a própria braguesa). Trabalhando com a ajuda de uma banda fixa que lhe dá outras guitarras (acústicas e eléctricas, um baixo acústico, bateria e percussões) e de alguns convidados especiais - António Chaínho (na guitarra portuguesa), dois espanhóis (ligados ao flamenco e ao jazz), Carles Benavent (baixo) e Jorge Pardo (saxofone), e o acordeonista Ricardo Dias (da Brigada Victor Jara) -, d'Oliveira mostra neste disco, pelo menos, três temas fantásticos: «O Momento Azul» (perto do fado; também muito à custa da presença de mestre Chaínho), «Obrigado Paco» (presumível homenagem a Paco deLucia, com os dois espanhóis no barco; entre o flamenco e o jazz) e «Nicolinas» (um tema inspirado numa festa vimaranense em honra de S.Nicolau, e aqui numa fusão dos dois universos - fado/flamenco - bastante bem conseguida). Como curiosidade - e como mais um exemplo da largueza de vistas de d'Oliveira - , refira-se que «Brisa Mediterrânea» (a faixa-extra) é uma remistura jazzy, electrónica e dançante do guitarrista dos Rádio Macau, Flak, e de Carlos Morgado (isto é, os dois Micro Audio Waves). (7/10)
TERRAKOTA
ESPALHAR A PALAVRA
A palavra passou. Ensaio a ensaio, concerto a concerto, festival a festival, uma maqueta roufenha ali, um tema numa compilação acolá. E a palavra cresceu: Terrakota. Sempre com público à frente. É um grupo hippie, ou então são freaks, sei lá, diziam uns. É reggae, garantiam outros. Não, aquilo é mais música africana - tem djembés e kora e balafon e kissanges. É world, é fusão, é uma máquina de dança. É um grupo de intervenção política&ecológica&social. E é muito alegre e policromático... Etc, etc. O tira-teimas chama-se «Terrakota» e pode agora ser levado para casa, em digipack colorido, com treze canções lá dentro. A entrevista - outras palavras que passam - é com Romi, Alex, Humberto e Francesco.
O álbum «Terrakota» é um bom espelho do trabalho de dois ou três anos do grupo?
É claro que, como músicos, sonhamos sempre com grandes meios, uma grande produção... E pensámos em quem poderia trabalhar connosco naqueles pormenores e em todos os sons que nós temos. E acabámos por trabalhar com o Dominique Borde, que nos acompanhou do princípio ao fim - foram muitas horas de trabalho e ele foi inexcedível. Não foi um trabalho fácil, principalmente ao nível da equalização da dinâmica dos instrumentos - principalmente os acústicos... A nossa grande dúvida era saber se conseguíamos passar a energia, o calor que conseguimos transmitir ao vivo para uma rodela de plástico. E, no geral, estamos satisfeitos, embora tenha havido coisas que não resultaram como nós queríamos.
Para quem não conhece os Terrakota, poderiam dizer de onde vem esta música que se ouve no disco?
Vem da Terra (risos). E esta é apenas uma pequena parte de estilos de músicas de vários lugares do mundo que nós queremos tentar abarcar no futuro. Nós partimos de estudos no terreno ou, pelo menos, de muitas audições de discos em casa de cada um de nós. Precisamos de estudar as rítmicas, de estudar técnicas - por exemplo, se queremos usar um baixo da música gnawa, temos que ir a Marrocos para estudar como se toca da maneira certa; neste momento tocamos esse instrumento mas ainda não correctamente.
Os Terrakota nasceram de uma viagem a África que alguns de vocês fizeram...
Mas antes da viagem já havia a ideia de iniciar qualquer coisa musicalmente. Ainda não sabíamos exactamente o que era, nem como seria, mas sabíamos que algo iria acontecer. Os três que fizemos essa viagem - Alex, Humberto e Júnior - já estávamos ligados à música há alguns anos, como percussionistas, e tínhamos um contacto grande com músicos da Guiné-Bissau que estavam aqui em Portugal. Depois fomos à origem...
E porquê esse gosto específico por África?
É uma questão de afinidade. Um de nós nasceu em Moçambique, outro em Angola... Há música e instrumentos riquíssimos em Portugal - a guitarra portuguesa, as gaitas-de-foles... - mas nós não temos que nos restringir a um território demarcado. E sentimos a necessidade de descobrir de onde vinha este calor, esta energia que nos faz ficar alegres.
Quando viajam, não se sentem por vezes como o ocidental que vai roubar a música dos outros?
Não. Para nós, o fundamental é a relação humana. Não vamos com aquela ideia de ir lá roubar os sons ou comprar um instrumento barato. Em África, fizemos amigos, que ficaram amigos, com quem partilhámos músicas e emoções. E agora ainda fazemos trocas de instrumentos, e ainda lhes enviamos coisas... Mas sabemos de histórias de roubos absolutos, de gente que vai para lá gravar em estúdios móveis, que promete pagar-lhes e depois não paga nada.
Disseram há bocado que muitos de vocês foram percussionistas... A base dos Terrakota é o ritmo - ou vários ritmos - e tudo o resto vem por acréscimo?
Muitas vezes é, mas outras não. Podemos começar a trabalhar numa canção com uma base de percussão mandinga, mas também podemos partir de uma frase de guitarra. E, depois, experimenta-se muito. Dá-nos um grande gozo partir de um estilo e começar a ir para outros, mesmo com grandes discussões entre nós. Por exemplo, o tema «Sonhador» parte de uma base africana mas surgiu uma zona do meio que é cubana. Levámos seis meses a chegar aí.
Quando vocês estão em cima do palco nota-se uma grande cumplicidade entre todos vós. Vocês funcionam mesmo em colectivo?
Há muito trabalho colectivo. Existe um grande equilíbrio entre nós e temos uma grande ligação uns aos outros. Há uns mais amigos que outros, mas quando trabalhamos estamos todos a trabalhar para o mesmo... Fomos três vezes a Itália, numa carrinha, e vamos voltar agora, com passagem por Espanha (NR: a entrevista foi feita antes da última partida do grupo para o estrangeiro), para uma digressão de seis ou sete datas. E isto só pode acontecer quando há uma grande unidade entre todos nós. Nós tratamos de quase tudo: para além da música, há os contactos, backlines, PAs, transportes, um stress constante... Neste momento já temos pessoas que nos estão a ajudar, mas durante dois anos vivemos quase em exclusivo para os Terrakota. E nos concertos as pessoas sentem o amor que nós pomos nisto tudo.
Há várias canções vossas que falam de questões políticas e ecológicas...
Quando formámos os Terrakota, para além de todo o colorido musical que queríamos transmitir, também tivemos a preocupação de falar de uma série de problemas que nos afectam pessoal e colectivamente. A Romi (Nota: vocalista principal do grupo) é discriminada por ser africana e teve problemas para se legalizar em Portugal... Não nos vamos «queixar» dessas coisas directamente, mas tentamos arranjar uma maneira de falar delas de uma forma eficaz. Não usamos slogans nem frases feitas, mas as ideias estão lá. Às vezes partimos de questões que nos dizem respeito directamente, outras vezes, há notícias que nos sugerem outros temas como o «Inch Allah» - que tem que ver com o Afeganistão - ou o «Dear Mama», que fala de questões ecológicas. Depois, cada música é cantada em duas ou três línguas diferentes. Usamos o inglês, francês, português, italiano, árabe, espanhol, dialectos africanos e o terrakotense, que é uma língua que nós inventámos. Às vezes, para transmitir uma emoção não é preciso falar numa língua conhecida.
A capa do vosso álbum é extraordinária...
A capa demorou imenso tempo a fazer. Foi um trabalho do Feijão (Nota: pintor e gráfico que trabalha habitualmente com os Terrakota), em conjunto connosco, que também tem que ver muito com viagens. Ele esteve seis meses no Brasil e trazia aquelas cores todas na cabeça.
Há pouco falaram dos vossos concertos no estrangeiro. Vocês estão a começar a tocar mais vezes lá fora do que em Portugal.
Mas isso também se deve à situação política que se vive em Portugal, com muitas Câmaras a acabar com festivais de música. O Santana Lopes, em Lisboa, acabou com montes de coisas, incluindo o Multimúsicas, que era um festival importantíssimo e que estava a crescer. Mas acabou. Ele está mais preocupado com as festas da noite e discotecas do que com qualquer outra coisa qualquer. Quando é preciso cortar, corta-se nas verbas para a cultura. Nós tínhamos concertos marcados antes das eleições que foram desmarcados depois...
Em contrapartida, estão a aumentar os convites lá de fora.
Sim, nós queremos viajar com este projecto... E é possível que consigamos licenciar o álbum para outros países europeus. Em Portugal o disco sai pela Zona Música, mas é possível que em Itália saia por uma subsidiária da Sony. E também é possível que seja licenciado para Espanha e França.